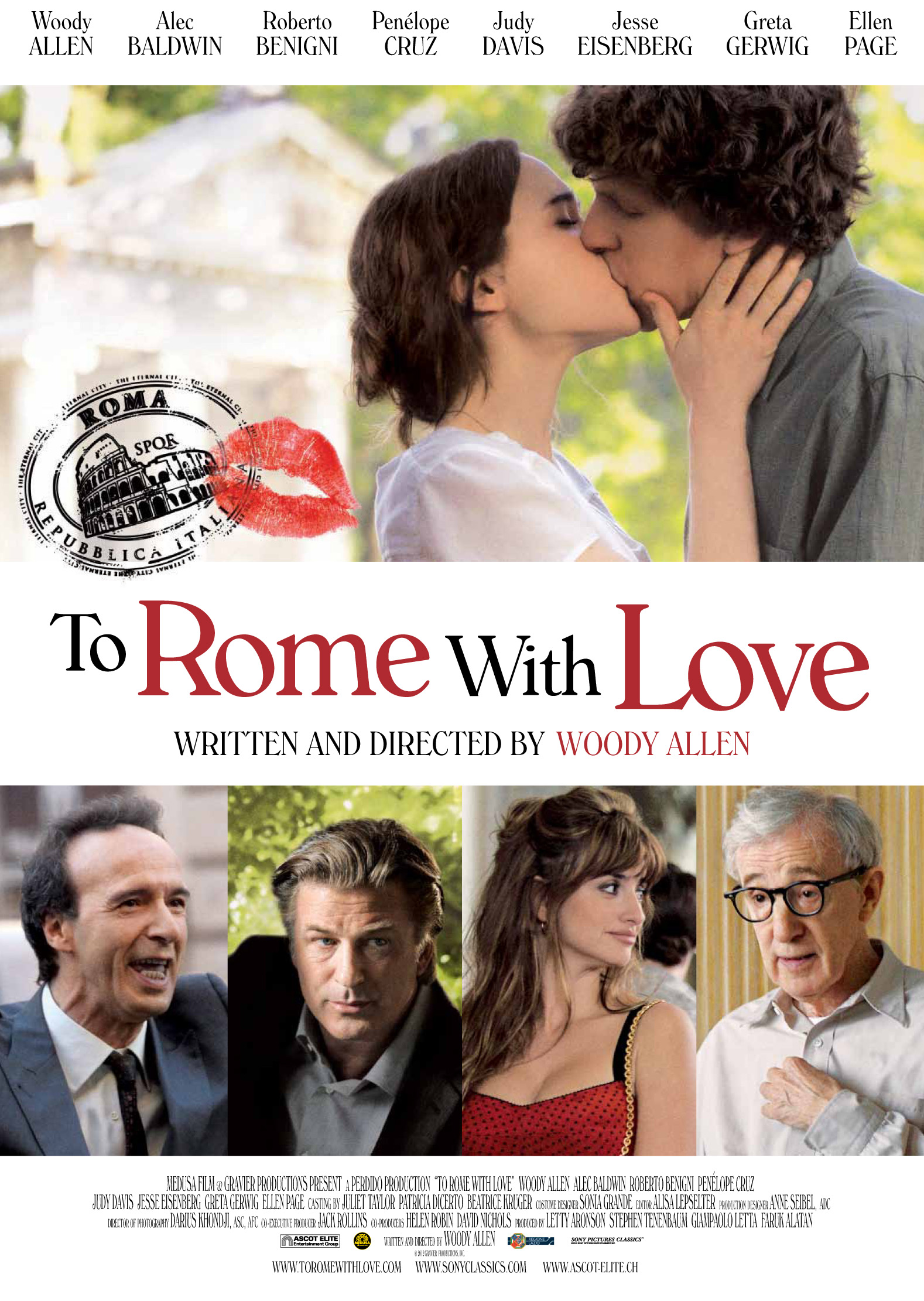Tom Cruise deixou de ser um sujeito que só por estar em um filme é sinônimo de sucesso. A Múmia, Feito na América e Jack Reacher: Sem Retorno sofreram, seja com as duras críticas ou com um público aquém daquilo que o astro estava acostumado. Missão: Impossível talvez ainda seja exceção à regra, já que contém filmes de qualidade ímpar, e claro, uma boa aceitação por parte dos espectadores. O sexto volume, Missão: Impossível – Efeito Fallout consegue ser um objeto divertido, emocionante e com muitos predicados positivos.
O filme tem ação e ritmo bastante frenéticos. O suspense é acertado demais e isso é muito mérito de Christopher McQuarrie, diretor e roteirista que já havia feito um trabalho sensacional em Missão: Impossível – Nação Secreta e também trabalhado com Cruise em Jack Reacher: Um Tiro, dois dos melhores filmes recentes do ator. A afinidade de McQuarrie e Cruise vêm de muito tempo, em 2008 com Operação Valquíria, quando o cineasta havia escrito o roteiro para o filme de Bryan Singer.
O roteiro primoroso apresenta uma trama de espiões cheias de reviravoltas que faz lembrar muito os livros de Tom Clancy, como Caçada Ao Outubro Vermelho, ou ainda os romances de espionagem de John Le Carré. Apesar de ser bem mais sério e inteligente que os filmes recentes de ação, ele não se descuida da ação só porque tem seu texto bem trabalhado, ao contrário, as cenas de luta são muito bem coreografadas e a sagacidade de McQuarrie em filmá-las em detalhes é enorme.
O aprofundamento dos sentimentos e preocupações de Ethan Hunt é igualmente bem feito. Os laços de lealdade fraternal com a sua equipe, como também seus enlaces românticos são explorados de uma maneira muito íntima e terna. Há tempo suficiente para desenvolver cada um desses aspectos. Além disso, este é um filme onde a equipe de salvamento é fundamental, e não só uma história de um homem perfeito que não precisa de ninguém para sobreviver, seguindo a linha do que já tem acontecido nos filmes mais recentes da série. Simon Pegg volta bem; Rebecca Ferguson, que atua num papel parecido com o último, desenvolvendo outras camadas; assim como o personagem de Alec Baldwin ganha maior importância nesta sequência. Até os personagens que aparecem pouco, como o Luther (Ving Rhames), aparecem bem.
Henry Cavill também está muito bem no filme e convence como um agente que rivaliza com o herói, inclusive se mostrando melhor que ele em alguns momentos. O roteiro não exime o protagonista de ser mostrado como um homem falho, que sofre com o tempo que já se passou, aliás esse detalhe de torná-lo mais vulnerável o torna um personagem ainda mais crível, além de aproximá-lo do público, portanto, é ainda mais fácil ter empatia por ele.
A saga Missão: Impossível ainda parece ter fôlego, e claramente, depende de seu astro para sobreviver, mas não faz sucesso só por isso, evidentemente, já que tem inúmeros aspectos técnicos positivos, desde a fotografia de Rob Hardy como a trilha sonora. Conseguir equilibrar bem as exigências comuns a uma produção grande como essa com a responsabilidade de fazer um filme minimamente autoral é extremamente difícil, e McQuarrie consegue de maneira magistral.




 As animações contemporâneas se bifurcam em duas vertentes: aquela que expandiu suas produções além de um mero produto familiar de entretenimento, como a Pixar, Studio Ghibli e, recentemente, a Laika; e outros cujo enfoque é apenas a diversão com um apelo maior ao público infantil. Dois polos que atingem um grande número de bilheteria, ainda que no caminho do entretenimento a fórmula se demonstre mais evidente.
As animações contemporâneas se bifurcam em duas vertentes: aquela que expandiu suas produções além de um mero produto familiar de entretenimento, como a Pixar, Studio Ghibli e, recentemente, a Laika; e outros cujo enfoque é apenas a diversão com um apelo maior ao público infantil. Dois polos que atingem um grande número de bilheteria, ainda que no caminho do entretenimento a fórmula se demonstre mais evidente.