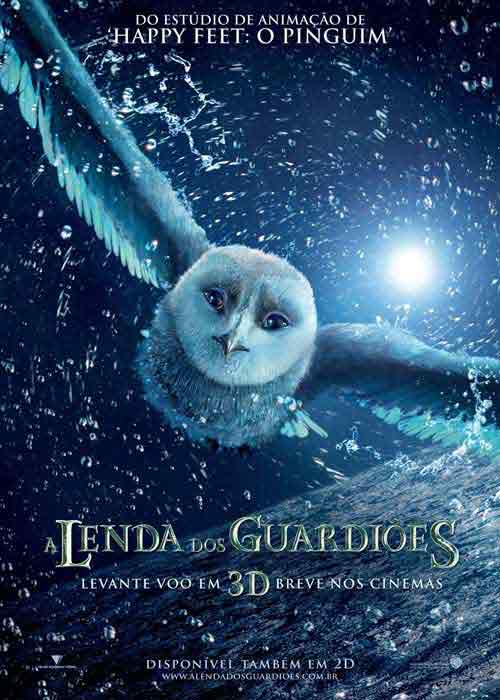Velozes e Furiosos 9 tem seu início em 1989, com o patriarca dos Toretto, Jack, correndo em um circuito da Nascar e sofrendo um trágico acidente sob o olhar atônito dos dois filhos. Esse preâmbulo serve para estabelecer que o Dominic Don Toretto de Vin Diesel tem uma ligação emocional com os carros, e ainda introduz Jakob, seu irmão, vivido quando adulto por John Cena, como o novo antagonista.
Justin Lin retorna a direção e como é visto na introdução esse seria um filme mais dramático que os anteriores. Um dos fatores curiosos da série de filmes era sua capacidade de rir de si mesmo, além de introduzir piadas e memes do público em sua própria história. Fato é que a franquia tinha em seu elenco atores medíocres que repetiam clichês de família para tudo, boas cenas de ação e de carros em velocidade, e invariavelmente se vendia como um filme de assalto ou de conspirações com governos envolvendo carros. Não havia muita preocupação dramática. Muita ação, frases de efeito e diversão, contudo quando a jornada se leva a sério demais, mesmo os defensores mais ardorosos penam na tentativa de justificar toda essa movimentação.
A fórmula claramente se desgastou, o que sobra é a sensação de que a corda esticou demais. Nem os absurdos e momentos impossíveis funcionam, some-se a isso os adiamentos causados por uma pandemia que matou milhões, e o impacto desse filme beira a zero, nem mesmo o choque de uma revelação familiar dos Toretto quebra essa sensação.
O filme chegou a ser exibido em grandes festivais, como em Cannes, e teve lançamento de dois cortes, inclusive com uma versão do diretor (com míseros quatro minutos a mais e pouco muda o espírito da obra), fora isso, há conveniências difíceis de engolir, como o retorno de um terceiro irmão Toretto, nunca mencionado. O longa não se contenta em ser um projeto de prequel, como também faz retcons.
Outra questão foram as brigas das estrelas e a bifurcação do elenco da saga Velozes e Furiosos, com Vin Diesel e Dwayne Johnson não trabalhando juntos dentro desta franquia. Se Hobbs & Shaw é legal, mesmo sem uma bilheteria vultuosa, esse não conseguiu quase nada, foi prejudicado em arrecadação por conta do novo coronavírus e não acerta no quesito escapismo. Parece de fato que algo foi perdido e o apelo a personagens antigos já não é mais o mesmo.
O longa tem sacadas, ainda que esparsas e meio perdidas no roteiro, como a indagação de um dos personagens ao fato deles terem tantos feitos impossíveis sem nenhuma cicatriz ou perda significativa seja para atrapalhar suas vidas ou como lembranças, mas quando essa sentença é dita pelo ator mais canastrão do elenco, Tyrese Gibson, perde força. A realidade é que mais do que antes, não há nenhum temor pelo destino dos aventureiros.
Ao terminar de ver Velozes e Furiosos 9 a impressão que fica é que a saga já se esgotou, e que uma trama tão pretensamente adulta que envolve rivalidade entre irmão e até insinuações de parricídio, não deveria se levar tão a sério ou deveria ser introduzido de outra forma. Não após quase duas décadas de duração e dez filmes contando spin offs. É pouco, e nem os retornos forçados do filme compensam suas fragilidades.